A parte 1 privilegiará os fundadores da historiografia marxista, Marx e Engels. A parte II, subsecutiva a este post, dará ênfase aos escritos de cunho mais histórico e político do período posterior. Pode soar estranho dizer que num compilado historiográfico não estejamos, num episódio ou outro, dando ênfase a escritos históricos, mas o historicismo marxista é tão rico que há uma parte complementar, talvez até mais numerosa, destinada à análise da História também do prisma estrutural, envolvendo Filosofia, Direito, Economia, Geografia (no que pode se distanciar da guerra, política e história o bastante a fim de ser considerado um livro marxista ‘fora da disciplina da História’, artificialmente falando; apenas para advertir o leitor de que será dada ênfase a conceitos econômicos aos quais seria legítimo se introduzir primeiro), Cultura (Estética embutida), Antropologia, Sociologia, dentre outros campos do saber.
É na função de síntese ou panorama geral de toda essa infra-estrutura que regula a superestrutura simplesmente “histórico-econômica” dos acontecimentos vigentes que se faz necessário esse segmento “introdutório” a Marx, Engels e seus continuadores.
Brevemente, procuraremos incluir numa SINOPSE: Episódios III ou qualquer número em diante (ou seja, SINOPSE: Marxismo: partes 2 em diante) – varredura marxista que pode levar algum tempo na série historiográfica como um todo – algumas obras dos seguintes autores (antecipamos estes pratos de comida para salivar o intelecto insaciável do leitor):
Hobsbawm
Dobb
Chomsky
Eagleton
Plekhanov
Lenin
Clara Zetkin
Rosa Luxemburgo
Guevera
Baudrillard
Arrighi
Braudel
Carr
Gramsci
Lafargue
Lukács
Althusser
Schumpeter
Malm
Wallerstein
Mao Zedong,
não necessariamente nessa ordem!
Esclarecimento importante: o grande fecho, i.e., a análise integral d’O Capital e dos Grundrisse, obras máximas do Marxismo, virão no epílogo da vertente marxista dessas sinopses!
[Os fundadores]
Índice dos livros que serão apresentados em panorama neste artigo:
ENGELS, As guerras camponesas na Alemanha
ENGELS, A situação da classe trabalhadora na Inglaterra
ENGELS, A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado
MARX & ENGELS, O Manifesto Comunista
MARX, O Dezoito de Brumário de Luís Bonaparte
ENGELS, As Guerras Camponesas na Alemanha

Der deutsche Bauernkrieg no original, este é um livreto de Friedrich Engels, maior colaborador vivo de Marx e divulgador do marxismo no século XIX, contendo relatos dos levantes camponeses do século XVI no território da atual Alemanha, conhecidos como Guerra dos Camponeses, evento que durou apenas alguns meses entre 1524 e 1525. Foi a resposta de Engels, no exílio na Inglaterra, aos levantes operários que sacudiram a Europa no período imediatamente precedente (a redação da obra é de 1850). Compara-se uma revolta na época do socialismo organizado com uma revolta 300 anos adiantada, antes mesmo da sedimentação da própria dominação burguesa e do proletariado urbano, ou seja, tentativa de uma revolução destinada ao fracasso, posto que de uma fase hiper-precoce do Capital. E no entanto essencialmente trata-se do mesmo fenômeno em estudo: trabalhador(es) oprimido(s) X opressor(es) (dono(s) dos meios), embora haja aqui um ingrediente extra: o cisma protestante, que torna a leitura muito interessante para quem julga que Marx e Engels não tratavam o assunto com a atenção ou o respeito devido (a variável da religião na História). Uma das principais fontes de Engels foi o também alemão e historiador seu contemporâneo Wilhelm Zimmermann.
Resumo geral
Engels identifica os cavaleiros como a “classe média” teutônica do século XVI, fazendo o papel da pequena-burguesia que ainda inexistia. Como sempre, esta “classe intermediária”, embora de origem popular, trai os mais pobres, escolhendo se aliar à elite. Seria o caso de Martim Lutero, o revolucionário religioso, como retratado no livro. Em vez de usar a popularização dos escritos sagrados em prol de uma liberalização das camadas inferiores, Lutero, que, ao mesmo tempo, atacava os príncipes e líderes seculares corruptos de então, punha uma coleira nas reivindicações sociais dos camponeses, apelando para as passagens mais reacionárias da Bíblia, que pediam submissão e resignação à vontade divina (nada mais que à vontade dos senhores). Em outros termos, transformava o Novo Testamento numa apologia da hierarquia social de seu tempo. Faltava consciência de classe aos camponeses e artesãos emergentes para se organizarem contra as velhas autoridades do regime feudal, o que explica o conflito e seu fracasso em transgredir a ordem vigente, bem como o não-maturamento de outras condições materiais.
A Alemanha ainda submetida à organização colonial do Império Romano e as classes emergentes do século XVI, com mais detalhes
Composta essencialmente de cidades-Estados do velho regime, o território da atual Alemanha era governado em cada pequena porção por seu próprio déspota/suserano. O que desencadeou chamas de revoltas populares foi o progressivo aumento dos impostos, um problema a que nós não somos estranhos. As despesas militares dos príncipes não paravam de crescer, bem como a nobreza e até a classe média dos isentos de taxação (incluindo, evidentemente, o clero, sempre defensor do status quo), sobre os quais a autoridade destes autoproclamados príncipes divinos em verdade jazia, só aumentavam a carga sobre as camadas mais pauperizadas. O campo minado estava armado para a explosão de um conflito civil.
Ao mesmo tempo, em contraste, o Direito Romano ia renascendo, neste meio um tanto feudal, e era canalizado para centralizar a administração dos pequenos feudos e principados e explorar cada vez mais a mão-de-obra barata. Não havia, fora das classes médias urbanas e da elite, o que se pudesse chamar de cidadania. Era difícil que rebeliões ultrapassassem o caráter de episódios inconseqüentes, isolados. Thomas Müntzer e outros radicais enxergaram a potencialidade da união dos oprimidos e intentaram organizar uma sublevação conjunta (principalmente a partir da Turíngia).
Mesmo os cavaleiros, guerreiros de tipo medieval, foram perdendo importância e, conseqüentemente, renda, pois a descoberta da pólvora e o cultivo da ciência militar tornou exércitos numerosos e imensas cavalarias uma arte obsoleta para a guerra. Não havia mais a necessidade do soberano residir em fortalezas, castelos, então inexpugnáveis, antes da introdução das armas de fogo. Ademais, o não-rebaixamento do clero nas mesmas proporções indignou ainda mais a classe decadente dos cavaleiros.
Mesmo que ocupando posição relativamente privilegiada, o mundo se secularizava, e as ordens religiosas perdiam autoridade política. O mercantilismo, a difusão da imprensa e até valores humanistas como os do Renascimento Italiano foram corroendo a aura da Igreja Católica, e os protestantes iniciavam sua história, nunca de forma pacífica, já que se tratava sempre de ocupar espaços (sobre quem eram os legítimos porta-vozes de Deus). Não à toa Lutero é produto deste meio de rápida corrupção da religião oficial e dos “santos”. Sua campanha anti-clerical iniciou em 1517 na cidade de Wittenberg. Mas Lutero pode ser considerado um Müntzer “amaciado” e “moderado”, e aquele que ficou mais famoso e consagrado, porque não desejava uma reforma “de cima a baixo” do organismo social – era o que Marx e Engels chamariam de um revolucionário de tipo burguês em um ambiente feudal decadente.
O camponês alemão do século XVI não podia caçar, pescar ou plantar sem pagar altas taxas aos donos das terras; não havia nascido ainda o conceito de propriedade pública como hoje a conhecemos e, por outro lado, os senhorios em seu conjunto haviam se apoderado de todas as faixas de terra (podemos falar em escala européia, embora o livro dê ênfase à “Alemanha”, ainda não-unificada). Além disso, se uma praga devastasse as plantações o senhor feudal nada devia aos miseráveis trabalhadores rurais. Até o matrimônio era pesadamente taxado. O camponês tampouco podia legar testamento aos seus, suas posses sendo apropriadas pelo suserano após a morte de cada indivíduo. O direito romano não alcançava essa camada de verdadeiros párias neste momento histórico.
Um documento que expressava o descontentamento dos camponeses organizados sob Müntzer veio à luz sob o título Os Doze Artigos da Floresta Negra, o manifesto deste movimento revolucionário de antanho. A tática dos soberanos de então foi fazer “pazes separadas”, isto é, dividir os revoltosos, fazendo concessões mínimas a cada bando, desmembrando e desarticulando a oposição. O francês Carlos V, reivindicando um trono acima dos demais senhores feudais, em nome do ainda nominalmente existente Império Romano, viria a ser um monarca ainda mais tirânico e opressivo para o camponês nas décadas vindouras à tentativa revolucionária destes anos 1520.
Seu parente Ferdinando recebeu o poder centralizador de que precisava em relação às províncias alemãs. Lutero ele mesmo não abraçou o movimento de Müntzer e – ele próprio à época considerado um herege segundo Edito de Worms – tachou os müntzeristas de hereges, pois “iam longe demais”. Lutero evocou o direito do príncipe e do senhor sobre suas ovelhas citando Romanos 13:1-7 (basicamente a enésima reiteração do dito Dai a César o que é de César, despolitizando inteiramente a questão). Müntzer, mais tarde incorporado ao cânone dos anabatistas, foi executado após a derrota dos camponeses. Se não o ímpeto revolucionário “total”, ao menos o burguês e protestante anabatista não arrefeceriam com o tempo, reverberando ainda em ondas sucessivas Alemanha, Suíça e Holanda afora.
ENGELS, A situação da classe trabalhadora na Inglaterra
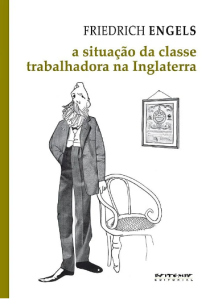
Livro que precede o da revolta camponesa em 5 anos. Dessa vez trata-se do estudo de uma sociedade já industrializada, a Inglaterra vitoriana, de onde muitos revolucionários do séc. XIX tiravam as esperanças de que surgiria a deposição da burguesia, uma vez que era o centro burguês mais desenvolvido do mundo. Com efeito, trata-se do escrito longo de estréia de Friedrich Engels. A primeira tradução, do alemão para o inglês, demoraria 4 décadas. Engels o redigiu na própria Manchester, coração da Revolução Industrial. O livro foi escrito antes de Engels haver conhecido Marx e, portanto, não sofreu sua influência. Ainda assim, o método historiográfico de Engels foi bastante elogiado por aquele autor.
Resumo
A expectativa de vida do trabalhador industrial de Liverpool e Manchester era desalentadoramente mais baixa que a de qualquer outro trabalhador, mas mais acentuadamente que a do trabalhador rural. Só em Carlisle, cidade pequena, após a industrialização, a mortalidade infantil aumentou rapidamente em 7%. O problema é que a mortalidade infantil na região já era absurda (quase metade das crianças dos moinhos morria). Nas mesmas condições, a mortalidade dos adultos com menos de 40 anos de idade também cresceu 25%. Mais do que estatísticas, Engels apresentou o quadro trágico e cruento: agora trabalhando mais horas diárias, os trabalhadores recebiam bem menos por hora e viviam em condições higiênicas muito piores. A maior ironia talvez seja meta-histórica: Friedrich Engels cresceu filho de um barão da indústria têxtil bávara. Desde a primeira juventude foi um jornalista-ativista. Após sua viagem a trabalho para a Ilha, suas convicções se tornaram ainda mais extremas e embasadas.
ENGELS, A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado

Longe de ser cronologicamente o primeiro trabalho da dupla Marx & Engels (seja como escritores-solo ou a quatro mãos), A Origem (…) é contudo um misto original de antropologia e economia primitiva e familiar, com bastante influência do etnógrafo Lewis Morgan, quem estudou os iroqueses e os senecas (tribos norte-americanas). Na verdade, foi o primeiro trabalho engeliano após a morte de Karl Marx e pode ser considerada uma co-autoria, embora Engels seja o editor final, uma vez que há subsídio de anotações antropológicas não previamente publicadas de Marx para a formação do volume. Uma triáide de terminologias cunhadas na obra e de importância central é a das famílias punaluanas, (1) sindiásmicas (2) e monogâmicas, (3) conforme seu modo de organização e perpetuação.
(1) Suposto estado original em que não havia o tabu do incesto com exceção do intergeracional e o casamento era livre entre irmãos e irmãs e primos e primas de qualquer ascendência. Além disso, as uniões tendiam a ser coletivas e os bens comuns a toda a “grande casa”, com poucas distinções entre os parceiros, exceto os sexos masculinos e femininos como designadores de papéis sociais bem-estabelecidos para os membros dessas uniões (seria uma situação intermédia entre o abandono do matriarcado, que faria parte de nossa pré-História e é tão difícil de estudar empiricamente, e a adoção de parâmetros androcêntricos. (2) Certa protomonogamia adquire relevo, mas não há clara transição entre os estágios 1, 2 ou 3. Assim como na poligamia islâmica atual, há algumas regras hierárquicas que passam a viger nos casamentos: algumas mulheres e/ou homens adquirem precedência sobre as(os) outras(os), assim como na poligamia de um homem que pode ter até quatro esposas a primeira esposa continua a ser a mais importante da família na configuração muçulmana. Adicionalmente, em caráter sintético, Engels afirma que alguns traços do feminismo, que hibernariam durante a terceira fase até sua reconquista nas lutas pelas revoluções européias, podiam ser detectados nesse tipo de sociedade ou “matrimônio híbrido”. (3) Formato patriarcal atualmente em vigor na maioria dos Estados-nações modernos, se não de caráter exclusivo pelo menos hegemônico (um homem e uma mulher, um lar). Reuniões homoafetivas já seriam extrapolações, toleráveis apenas a partir do fim do século XIX ou século XX em determinadas sociedades (o modo de produção em que vivemos ainda considera esta situação excepcional).
Alguns destes postulados, principalmente por derivarem de Morgan, que foi muito contestado em suas descobertas e modelos na Antropologia, já foram refutados, o que não prejudica o argumento-cerne do livro: o momento em que as sociedades ágrafas transitam para o patriarcado e a família proto-moderna, condições sine qua do estabelecimento do Estado (burguês) e da propriedade privada como norma absoluta.
MARX & ENGELS, O Manifesto Comunista

A chave para entender a historiografia marxista é seu conceito de trabalho. “A realidade histórica nada mais é que o trabalho objetificado, e todas as condições de trabalho fornecidas pela natureza, incluindo o corpo orgânico dos homens, são meras pré-condições e ‘momentos evanescentes’ do processo de trabalho.” [tradução minha] A inédita ênfase na matéria (daí o termo “materialismo”) como o fator determinante na História representa uma ruptura com todos os historiógrafos pregressos. Até o desenvolvimento da teoria do materialismo histórico por Marx, o fator determinante colocado acima de todas as relações de causa e efeito, diretor e motor da História, não deixava de ser de forma alguma uma espécie de agência divina, mais ou menos disfarçada, mesmo dentre historiadores ditos “fisicalistas” (que priorizavam o mundo físico em detrimento do “espiritual”). Faltava-lhes o senso dinâmico da matéria.
“Deus tornou-se mera projeção da imaginação humana” – e mais: “ferramenta da opressão”. Aboliu-se essa esfera transcendental que objetificava indelevelmente o homem. O trabalho humano passa a ser o autor da História. Toda ideologia anterior – finalmente descoberta como descrição ideológica – é apenas o avatar ou a apologia do poder dominante, uma “história-contra-o-trabalhador”. “O primeiro ato histórico é… a produção da vida material em si mesma.” Portanto, a historiografia não só começa com o trabalho como termina necessariamente com a produção: “a história não se subsume ou auto-realiza em ‘auto-consciência’ ou ‘espírito do espírito’; [Hegel] em cada estágio histórico há um resultado material: uma soma de forças produtivas, uma relação historicamente criada entre e pelos indivíduos com a natureza, que é legada a cada geração subseqüente sem tirar nem pôr.” Este é um resumo ainda grosseiro do marxismo, tem-se de ter em mente, mas já nos serve como bússola.
Marx, O Dezoito de Brumário de Luís Bonaparte

Princípios gerais do pêndulo da História da Europa
Há duas trajetórias de uma revolução: a ascensional e a decrescente. A primeira se dá quando partidos cada vez mais radicais vão se sucedendo na liderança do movimento, para que ao fim, na configuração do modo de produção capitalista, o mais paradoxal deles seja engolido pela própria fome revolucionária e arrancado de qualquer posto de comando. A segunda é seu espelho, posto que gradualmente igual, embora invertida. Neste segundo modelo de revolução, os jacobinos, ou a população revoltada, o extrato mais anárquico, são os primeiros na linha de frente. Estes são sucedidos por revolucionários de parlamento, que acabam entregando o poder aos burgueses. Estes, por fim, vêem-se salvos temporariamente pelo exército, que não obstante os descarta tão logo a espiral da revolução tenha completado seu movimento descendente. Assim, recai-se na ditadura. É uma lição maquiavélica destrinchada por Marx ao longo do livro (descrevem-se aqui os três anos do jocoso parlamento burguês de meados do século XIX na França, sob o mando do sobrinho de Napoleão, Napoleão III, um simulacro da ditadura napoleônica clássica).
Em ambos os casos, o elo mediano, o desfecho equilibrado que parece ser o mais longevo, é o da classe revolucionária vitoriosa de 1789, não outra senão a burguesia, que é a solução considerada “menos ruim” na luta promovida entre as diversas classes. Não há a autoridade pusilânime de um ditador, porém ainda ali se encontram as forças armadas e sua “honra”. Ademais, com a segurança constitucional, o indivíduo parece se ver num mundo melhor que o estágio da guerra de todos-contra-todos. Voltou-se à estaca zero do mundo moderno.
Karl Marx foi o primeiro indivíduo a compreender acima do razoavelmente tal situação antitética e oscilatória, tal todo contraditório que em vez de dinâmico era estático em essência. Procura ensinar ao proletário que, justamente, não existe um “ensino” a ser transmitido: deve ser encontrada uma forma inédita de revolução, ao invés de se mimetizar o êxito burguês, que foi único, ao vencer o Antigo Regime e secularizou o indivíduo burguês (chamando-o de “homem universal”), tornando-o, por fim, e ao menos, histórico.
A este propósito, a alusão ao personagem da literatura alemã, Schlemiel (de etimologia iídiche, dialeto hebreu, particularmente disseminado entre os judeus radicados na Alemanha, querendo dizer tolo, estúpido, empregado de forma corrente como adjetivo), que vende sua sombra para o diabo em troca de privilégios pessoais porém vê tudo se perder, é perfeita: os políticos franceses são sua versão invertida, sombras sem homem. História sem acontecimentos efetivos. Uma aula de fenomenologia (corrente filosófica do séc. XX), já no século XIX.
Superando suas influências: Parto do materialismo histórico
O conceito de destino manifesto de um povo, de verve hegeliana, é duramente contradito por Marx nesta obra. A visão de que cada nação possui o governo que merece é ilusória e precisa ser abolida. Sequer há o que se pode chamar de “nação”, e não porque o Estado-nação não respeite nações, mas porque o próprio conceito de nação está seriamente em xeque. Não existe o povo, por mais que o tópico-frasal da socio-logia (estudo ou conhecimento sobre o povo) coaja qualquer sociólogo incipiente a dizer o contrário. O que acontece em um país como o Brasil, por exemplo, é a tendência auto-implosiva do Capital: o enraizamento de uma plutocracia que impede o movimento revolucionário, porquanto este só representa perigo sendo massivo. Uma vez que estão destruídas as condições para que ele o seja (tome como base a mídia brasileira, que impossibilita o menor pensamento transgressor e injeta desinformação incessantemente e em larga escala), fica na mão do (escasso) indivíduo consciente a decisão: dada a impossibilidade democrática de atingir a verdadeira meta coletiva e a inviabilidade de qualquer negociação pacífica com o Estado e demais forças, baluartes da moral do Ocidente, diria um Nietzsche, eu devo lutar e arriscar a piorar ainda mais drasticamente minhas condições de existência neste mundo ou eu devo me conformar, manter minha propriedade, minha liberdade, enfim, meus direitos civis, minha relação com a família, meus estudos e meu emprego (dilema básico do “proletário empregado”)? Parece que, diante de impasse de tal ordem, sempre escolheremos a segunda opção. Mas, para ser auxiliado por um provérbio simples contudo verdadeiro, “nada é eterno”.
O que se depreende disso? Na aparência, durante uma época corriqueira do regime burguês, o momento da luta pela ruptura irreversível do sistema é invariavelmente empurrado para frente e jamais concretizado. Não há como imaginarmos, de fato, que poderia haver uma “anarquização” da sociedade moderna a ponto de transformar poderios incalculáveis como o produto nacional bruto e o exército americanos em cenários tão imprevisíveis quanto as Farc no território colombiano ou as milícias mexicanas em guerra de trincheiras com o Estado. No entanto, a relação de hegemonia relativa norte-americana já decresceu bastante nas últimas duas décadas (2000-2020). De qualquer forma, para o indivíduo regrado pela ideologia ainda hegemônica, a própria constituição do “rebelde” como exceção e minoria absoluta é já a quase refutação de qualquer esperança revolucionária.
Onde está, pois, a mágica que torna o inimigo invencível do homem no único sentido autêntico (a classe dominante) um respeitante do ditado de que “nada seja eterno”? Nele próprio. O invencível (figura sem corpo, apenas a idéia que temos enquanto somos escravos do próprio Ideal) é a vítima derradeira de seu próprio sucesso. As contradições do Capitalismo tornam-se mais agudas à medida que seu êxito se torna mais inquestionável (paradigma do fim do milênio anterior: o neoliberalismo venceu o “socialismo real” e não há mais “ideologias”). Há um ponto de ruptura nas auto-vitórias do maleável Capital e da casca de todo seu conteúdo, a moral do Ocidente. As fendas já aparecem com muito mais nitidez para nossa geração.
Existirá um momento em que as condições de existência do regime não poderiam ser mantidas nem que se o almejasse: contramedidas apenas acelerarão o colapso, e por mais que tal lição seja aprendida o colapso, em si, não pode ser evitado. Os estratagemas recentes dos Estados Unidos da América e a irreversibilidade da desdolarização da economia mundial posta em marcha pelos BRICS são a demonstração perfeita.
Não procede a crítica liberal feita a Marx de que “o que um homem vê, os outros vêem, ou o vêem vendo”, apontando para o fato de que, se o homem faz sua História, então ao se corrigir o rumo da História que Marx queria levar a cabo (não é Marx, é a classe oprimida), a história realizada é o capitalismo em si, um oximoro ou hipóstase, posto que a palavra carece de definição e chega a ser deliberadamente igualada a um “fim da História” pelos ideólogos (sim, eles ainda existem) do establishment.
Numa análise pessoal, antes de confrontar-me com a obra marxista na fonte, em 2006, eu era partidário dessa ideologia paralisante de que “eu fazia parte da vitória”, e de que não havia mais classes, nem portanto luta pelo poder (este limitando-se a espelhar os desenvolvimentos econômicos em margens estreitas que jamais desestabilizariam as conformações do Estado moderno).
Digamos que apenas se espera pelo inevitável, uma vez que se tem consciência de que não houve fim da história. Longe de uma visão de espírito fatalista (neo-hegeliana), trata-se da constatação, pelo homem que se enredou no pólo natureza-cultura, percebendo-se sua síntese e culminação crítica, de que ele, o homem, junto de seus produtos, é a natureza e a cultura em simultâneo. Como fenômeno pensante e pulsante – vida viva –, não pode se negar a vivê-la excedendo o limite “x”, isto é, não pode destemporizar a história e a corrosão de determinado arranjo decadente das forças produtivas. Esse limite “x” é o dia da derrocada do sistema capitalista em decorrência das próprias ultra-contradições e da soma das vontades individuais da grande maioria de manter o sistema intacto, que só poderá ser reconhecido retroativamente. Pode ser que o século XXI seja o “limite x” para o historiador do futuro, que analisa os agentes da História passada.
A tal ponto as contradições se acirram que o tal dilema da escolha pessoal, lutar ou conformar-se, perde inclusive o sentido ou deixa de figurar no paradigma de uma escolha racional burguesa. Não significa que o homem moderno rompa de repente e integralmente com seu passado, uma vez que coexistirá (e coexiste, pois há homens modernos hoje, embora não no comando do que quer que seja) com os pseudo-modernos, criaturas que atualmente parecem ditar a História e que no entanto não compreendem ou não podem evitar o problema futuro de ter compreendido hoje que não alcançaram a modernidade (não abortaram em definitivo a revolução social), mas que são entes mais fracos, pré-modernos, pré-históricos, no sentido da história dialética.
A diferença fundamental é que no leme da embarcação histórica encontraremos, na coexistência reformulada do fim do Capital, os modernos como classe ou casta dominante. Lembre-se que, coletivamente, ao olhar ao redor, jamais fomos modernos. Há uma certa metafísica ou sentimento coletivo, não-falseável, e não equivocado, de que a classe dirigente atual atingiu seus limites e encontra-se diante de um apocalipse ou exaustão global. As próprias mudanças climáticas e a crise energética iminente com o fim das reservas de combustíveis fósseis são arautos deste “apocalipse do sistema financeiro”.
Aplicação da fenomenologia de Heidegger e outros filósofos continentais ao marxismo do XIX
Se há algo de desesperador na vida, é a vida, aquela mesma que cria o sentimento do desespero (e já é um privilégio usufruí-lo!), que recai no auto-perceptível fatalismo. O Ocidente é um monstro que se devora a si mesmo e quanto mais come de seu tecido em sua dieta canibal mais julga o prato delicioso, sendo portanto apenas bom senso e não qualquer dom premonitório que permite aos revolucionários com método asseverar que ele, este mundo, nunca deixará de se comer até que suas funções vitais sejam desligadas – porque ele acredita piamente que está cada vez mais corpulento, quando seu aspecto ao observador alheio (o moderno, imerso no estômago do monstro e que pode ser ejetado na ocasião oportuna) é o do definhamento. O mundo, coabitado por homens, no entanto, seguirá existindo temporal e geograficamente. E não há meios de um monstro que só triturou tudo com seus dentes de repente aprender a fazer outra coisa, pois seguiu um instinto, o de refutar o materialismo histórico… Não existe um estado de equilíbrio na natureza, apenas uma ideologia de alguns homens que tem fé nesse equilíbrio.
De volta ao século XIX europeu
Marx demonstra como os maus resultados econômicos franceses dos anos de 1851 e 1852 não se relacionam com a esfera política (contenda parlamento burguês enfraquecido X Luís Napoleão), mas apenas com os próprios resultados cíclicos das indústrias e do terceiro setor, uma vez que a próspera Inglaterra também sente o baque (com uma economia cada vez mais global, mesmo nações politicamente estáveis podem de um mês para o outro enfrentar reveses em sua balança comercial, e o século XIX foi o primeiro em que esse fenômeno, prenunciador da integração das economias nacionais em escala ainda mais severa, pôde ser observado). Especialmente na Grã-Bretanha, a superpotência de então, foi o crescimento exacerbado que causou a mordaça nos lucros dos capitalistas (intensificação da competição): o capitalismo é vítima de seu próprio sucesso.
O império do segundo Napoleão (nominalmente o terceiro) é um fantasma das lendas camponesas, refeito. É o idílio da massa camponesa que não quer a revolução; quer uma impossível volta ao passado, quer um imperador justo que governe para si, sem ter de se sentir historicamente responsável. Uma reprise de Napoleão que devia ser, no entanto, mais comedida: a França já não podia praticar aventuras militares pela Europa de forma igualmente impune.
O livro famosamente inicia recordando a frase de Hegel de que cada personagem histórico existiria duas vezes, quer seja, o original e sua cópia, a farsa. Luís Napoleão, Napoleão III, é o protagonista de uma comédia involuntária, um maquiavelismo embotado que se sabia, no íntimo, uma mera paródia. A nação inteira, em todas as suas classes e subclasses, fornece também os títeres desta cópia, deste teatro de marionetes. O regime de Napoleão III não tinha condições de se sustentar.
CONTINUA…

